Escritório (detalhe)
março 23, 2014
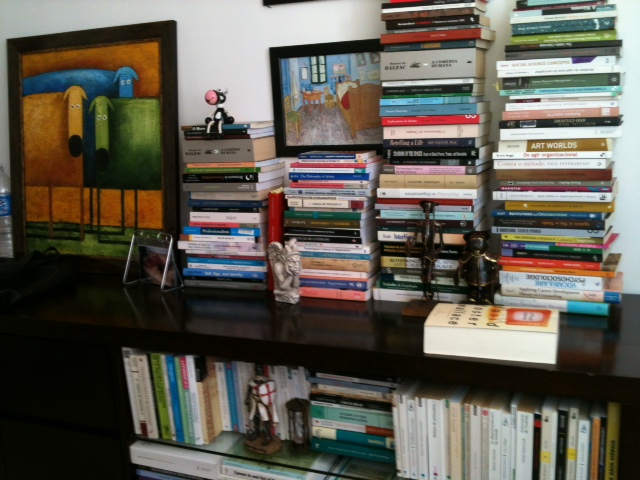
fevereiro 23, 2014
A pessoa se sente “superiora” à outra: no seu íntimo, sabe que tem mais bom gosto, que sabe comer melhor, que conhece os melhores livros de literatura, os melhores vinhos, que tem o estilo de vida mais “nobre”. Deste lugar, olha o interlocutor como um pobre-coitado, sem estilo, vulgar – e imbecil.
Perante o outro, justificamos nossa vida como uma vida mais bela de ser vivida. Perante o outro, mas tendo apenas nós próprios como interlocutores, sentimos que tudo em nossos hábitos é justificado, valoroso, digno de credibilidade, autenticidade e verdade. A vida e os hábitos do outro são catalogados com os mais variados adjetivos, que vão do excêntrico ao ridículo.
Se o outro é um religioso fervoroso, e nós sequer religião temos, nos sentimos superiores: estamos do lado da razão, situados naquele ponto geográfico elevado em que as nuvens da confusão não nos atingem. Dali pensamos enxergar com exatidão a realidade: por exemplo, de que não há Deus, de que não há nada que faça com que nossa vida material e simbólica seja tolhida no presente em nome da eternidade a porvir.
Se o outro é um relapso à mesa, nos sentimos melhores, pois, ao contrário daquele, não nos entupimos com mussarela barata, carne gordurosa, doces absurdamente açucarados. Não comemos arroz em doses cavalares, nem farinha no café da manhã. Nos sentimos melhores porque comemos comida vegetariana, não jantamos pesado à noite, e porque consumimos água mineral de boa marca e preço elevado.
Se somos doutores por boas universidades, e passamos em frente a alguma dessas escolas particulares, com seus outdoors iluminados prometendo um “futuro profissional de campeões”, nos sentimos como a reencarnação de Aristóteles ou outros “iluminados” do passado, e, entre canto de boca (ou com a boca escancarada de dentes a gritar dentro do próprio carro), falamos “o que tem na cabeça os que estudam ali”. Sentimos como se estivéssemos diante de alunos de segunda classe, cidadãos de segunda classe, se enganando com uma formação mesquinha e seus R$ 199,99 de mensalidade por mês!
Se temos um currículo com algumas “dezenas” de artigos, nos sentimos intimados por nós próprios a nos achar especiais, e a ter todo tipo de direito de julgar a “vulgaridade intelectual” daqueles que têm apenas nome e formação estampados em seu Lattes, quando muito com algumas apresentações em congressos ou artigos publicados em revistas duvidosas, de Qualis inexistente!
Os exemplos poderiam se multiplicar. Na sua essência, teriam em comum o aspecto diletantista, a mentalidade conservadora, o desejo de status e toda a liturgia envolvida no processo de construção de uma consciência separatista, sujeita e disposta aos extremos para, se possível, exterminar o outro e a diferença.
Mas não é disto que quero falar. Quero falar de um fenômeno bem mais mundano e que pode ajudar a entender esse tipo de situação. Refiro-me aos pontos cegos que nós todos temos, e, como tais, não nos damos conta.
Nos achamos muito inteligentes, mas pode ter certeza de que alguém vai se achar ainda mais inteligentes do que nós. Podemos nos julgar melhores entendedores de vinho (diante de algum coitado que bebe “sangue de boi”, como se diz), mas haverá alguém que não teria qualquer peso de consciência em nos rotular de bárbaros ou de plenos ignorantes petulantes sobre vinhos! Podemos nos dar de entendidos perante um público de ignóbeis, nos dizendo entendedores e sabedores desse autor X (europeu ou norte-americano), mas, se por acaso caíssemos nos círculos efetivamente letrados, seríamos confundidos com algum garçon ou serviçal, fuzilados pelo esnobismo daqueles que, por condições materiais objetivas, tiveram o privilégio de poder dedicar suas vidas à aquisição de valioso e exclusivo “capital intelectual”.
A nossa vida é repleta de pontos-cegos, mas não temos consciência deles. Devido a esse problema, digamos, “óptico”, criamos as mais delirantes e inebriantes teorias sobre nosso próprio auto-valor (em geral, sempre nos justificando superiores). No fundo, precisamos dessas teorias próprias para esconder o fato de que somos todos insignificantes, sempre alocados em algum lugar numa hierarquia imaginária de valores e perfeição. Os que tentam escapar ou negar tal hierarquia criam outra estória para si mesmos, como se sua “marginalidade” contivesse, a contrario, tudo o que as pessoas imersas no mainstream não conseguem ter. Então, se não temos dinheiro, dizemos que a vida não é consumismo mesmo, e que os valores estão em outro lugar. Se não temos um Lattes digno de respeito (pelos critérios vigentes), então criticamos a produtividade, ou então nos escondemos atrás de uma suposta “superioridade daquele que só escreve quando tiver a ideia brilhante e revolucionária”.
Todos temos nossos pontos-cegos. Só torço para que esses pontos-cegos não se acumulem tanto naquelas pessoas em posição de gestão (pública e privada). Pois, nesses casos, sempre temos o ingrediente essencial para o surgimento de novos ditadores, psicopatas políticos, hipócritas, cínicos e inseguros de toda ordem – mas com poder, o que é sempre uma pólvora prestes a explodir. Enquanto seres-pequenos, como eu, você, tivermos nossos pontos-cegos, tudo bem, exceto certa comicidade nas relações cotidianas que fatalmente nasce dessas coisas.
janeiro 30, 2014
Pois uma coisa é você dizer que alguém morreu porque tinha de acontecer, porque não temos controle sobre a natureza, e porque, no fundo, somos seres frágeis e a ciência (a medicina, neste caso) chegou até um ponto fantástico de desenvolvimento, mas jamais vai conseguir impedir a morte. De gente e de bichos (no caso dos bichos, como já falei aqui, a situação é ainda mais esdrúxula).
Outra coisa é alguém morrer, ou um bicho, porque não houve atenção. Erro humano? Uma possibilidade. Limite tecnológico? Outra. Mas as coisas não param por aí.
Em certos lugares, morre-se mais que em outros. Se houvesse alguma estatística refinada (na verdade, deve haver), com certeza os dados mostrariam isso. Causalmente, devem haver muitos fatores: humanos, tecnológicos e, claro, fatores relacionados “à coisa em si” que é, em muitos sentidos, o corpo vivo.
Mas seria a vida democrática? Quero dizer, Deus, quando criou este mundo, distribuiu a morte equitativamente? Ora, dizer que, ao final, todos vão morrer, ricos, pobres, brancos, negros, asiáticos e brasileiros, enfim, tentar, a partir da morte, criar uma espécie de crivo metafísico para aliviar as coisas, é um absurdo ético.
Pois a vida não é democrática, e, apesar de as pessoas, “ao final”, morrerem, sabe-se que algumas morrem bem mais cedo, e em condições muito piores, do que outras.
A vida depende de duas coisas: do corpo e sua própria dinâmica (e cada corpo, humanos e não-humanos, têm sua singularidade e responsividade – por exemplo, a tratamentos); e de atenção. Atenção da parte do próprio “ser” de cuja vida se trata, como também, e principalmente, do outro.
Esse “outro”, na sociedade industrial e de extrema divisão e especialização do trabalho, é, frequentemente, o médico. Um médico bom não é aquele que tem à sua mercê uma infinidade de exames possíveis e imagináveis. Mas é aquele que consegue perceber, notar, identificar, o que se passa. Para isso, precisa tocar, pensar muito a respeito, consultar, estudar, comparar, etc.
Em que situações um médico fará isso que eu acabo de dizer? Há variações, claro; mas, em geral, quando houver dinheiro. Muito dinheiro significa que a outra pessoa, o profissional, aceita investir e dedicar todo seu corpo e mente a entender o que aquele corpo diante de si está “dizendo”. Envolve comprometimento: não apenas com um senso de “trabalho bem feito”, como se diz em algumas teorias de psicologia do trabalho, mas praticamente uma entrega, uma doação. Doar-se ao outro, seja ele um humano ou um não-humano, que é, como você que me acompanha, o assunto dessa última sequencia de posts.
A relação do corpo com o outro que cuida é uma relação mediada pelo dinheiro e pelo “gênero profissional”, uma espécie de cultura de cada profissão. O saber que aquela profissão, ao longo do tempo, foi colocando à disposição do profissional. Eu, hoje, estou mais crítico e, portanto, mais convencido de que o dinheiro é um importante marcador, um divisor de águas entre a vida entregue ao “silêncio dos órgãos”, como diziam Guatarri e Deleuze, e a vida que simplesmente pede para ser escutada.
De novo, para não perder meu argumento: a situação no caso da medicina veterinária é surreal. Primeiro, pois a “vida” não “fala” (em sentido literal). Daí a necessidade de uma capacidade de “empatia” quase metafísica. Depois, porque essa vida, em si, como disse a dois posts atrás, é mercadoria.
janeiro 30, 2014
É como se eu tivesse aprendido ontem que existe a perda e o luto. Como se isso fosse alguma coisa que, de repente, não fizesse parte do ser vivo, mas de um despertar tardio de minha consciência. A natureza, suas regras, suas contingências nasceram ontem, e deve ser por isso que nunca me dei conta de que se vive e se morre.
Freud dizia que o inconsciente não conhece a morte, não sabe nada sobre o tempo. A morte não tem lugar no inconsciente, e então deve ser por isso que nos comportamos como se nunca houvesse a perda, o fim. Nem o nosso, nem talvez o dos outros.
Quanto mais inflado nosso eu, mais auto-rotacionados nossos pensamentos, mais ego-centradas nossas preocupações, aspirações, medos, desejos, parece que menos somos capazes de perceber a morte. Narcisismo e morte. Aí, quando ela ocorre, nos sentimos como se fôssemos um convidado que chega muito atrasado em uma festa, arrependido do que perdeu.
Mas é paradoxal. Pois ao mesmo tempo em que a inflação do eu nos desvia da atenção ao outro, esse outro está desde sempre ali. Explico: quando um ente está a nosso redor, por mais que não lhe dediquemos muita atenção, sua falta denuncia que ele ali estava, à disposição, à-mão (como em algum lugar, sobre outra coisa, falou alguma vez Heidegger). Ausência na presença.
Mas existe presença na ausência? Num primeiro estágio do luto, provavelmente não. Quando estamos em luto, a “presença ausente” do ente desaparecido revela que o ente não está mais à-mão, não está mais ali. Essa ausência nos mostra que, no fundo, a presença subentendida do ente, quando vivo, nos era importante, por vezes vital. Mas não conseguimos, na plenitude, nos dar conta disso no momento em que poderíamos – parece que só o fazemos depois, quando já não há volta. Daí vem a culpa.
A morte de um ente altera nossa percepção, fazendo-nos realçar as características positivas do ente morto. Por que fazemos isso? Vou falar por mim, pelo que sinto. Porque o ente era importante, para alguma coisa ele era importante, senão essencial. Mas, no cotidiano da convivência, no cotidiano da “ausência na presença”, não nos damos conta, pois estamos muitas vezes às voltas com nosso próprio eu e seu cinturão de objetos, dejetos, todos eles circulando ao redor da gravidade egóica. Mas lá estava o ente, à-mão, à-disposição. Com a morte, não mais. Nesse sentido, a morte do ente tem relação direta com o narcisismo. Uma culpa narcísica. E não uma culpa relacionada à perda do objeto de amor (e a consequente necessidade de reorganizar os investimentos egóicos).
Winnicott tem um texto genial, “A incapacidade de ficar só”. Porém, como quase tudo nesse autor, a interpretação não é a que logo nos ocorre, de que uma pessoa (no caso, ele falava de crianças) não consegue ficar sozinha. E pronto. É isso, mas é também outra coisa: a criança, em seu processo de maturação, vai progressivamente aprendendo a ficar só – porém, na presença da mãe. Isto é, na presença de um outro que protege, ou que meramente ali está, na “presença ausente”. A criança fica entretida com alguma coisa enquanto a mãe está ali perto, passando roupa por exemplo. Com o tempo, a mãe vai se transformando em outra coisa, em outras pessoas, em outros objetos, outros entes.
Nesse post, usei a palavra “ente”. Sabe por que estou falando assim? Por que, se você leu meu post anterior, sabe de que perda estou falando. Essa perda, entre outras coisas, me fez ver a relação que mantemos com entes, não necessariamente pessoas. Aliás, entes não-humanos, quando a eles nos apegamos e daí os perdemos, dizem talvez muito mais sobre nós, nossos investimentos e dinâmicas egóicas, do que nossas relações com entes humanos. Em termos históricos, esses entes saíram de uma posição indiferenciada (“objetos” da natureza) e se tornaram “seres” para os “seres humanos”. Mas se tornaram seres como coisas à-mão. A relação que humanos com eles estabelecem mostra, talvez, apenas um capítulo dos mecanismos e processos mais amplos de vínculo e apego. Ou podem mostrar novas dinâmicas subjetivas, relacionadas à perda.
Encerro: quando choramos a perda de um ente, pode ser porque choremos aquela parte nossa que morreu com o ente. Ou podemos chorar aquela parte que gostaríamos de ter explorado melhor, ou seja, choramos pelas possibilidades não realizadas. Podemos chorar pelo abandono do ente em relação a nós, como se, para começar, esse ente tivesse vindo ao mundo por causa de nós! Ou podemos chorar por uma coisa bem mais profunda: podemos chorar pelo vazio, pela escuridão, pelo non-sense de que, no fundo, é constituída nossa vida. Podemos chorar de angústia, não de culpa. Então, é nisto que acredito: hoje eu choro pelo vazio.
janeiro 29, 2014
Na linguagem corrente, quando falamos em perder, sempre associamos a “perder alguém”. É incomum, embora isso, felizmente, esteja sendo revertido, falarmos que perdemos um animal querido, não-humano. Pois perdi um animal querido, uma cachorrinha de estimação, que esteve comigo durante 13 anos. Não vou aqui falar do meu vínculo com ela, do que ela representou para mim, do que mobilizou em mim. Gostaria de falar de uma coisa que esteve, o tempo todo, nos bastidores. Gostaria de falar do como transformamos animais em objetos de expropriação econômica, em mercadoria, e de como, no campo veterinário (falo da minha experiência), impera uma ganância, uma falsa preocupação e, pior, um amadorismo avassalador.
Sempre odiei posturas arrogantes. Posturas de quem acha que sabe, baseado em uma ou outra leitura de textos xerocados de universidade, ou numa “experiência profissional” repetitiva. De gente que não tem o espírito científico, capaz de levar a curiosidade, o interesse, a exploração até as últimas consequencias.
Mas como é que um veterinário pode se dedicar com a profundidade necessária à análise de um “caso”, se ele tem, diante de si, mil e um cachorros para tratar? Não pode. Ele trata genericamente, ele trata à distância, ele improvisa, e, sobretudo, o que mais irrita e magoa, ele trata baseado na crença de que compete ao animal “reagir”. Ensaio-e-erro. Em pleno 2014 estamos praticando uma medicina veterinária baseada em ensaio-e-erro!
Minha cachorra morreu em decorrência de um câncer (e de um tratamento quimioterápico não-responsivo, com sintomas secundários, mas fatais). Eu li tudo o que pude a respeito. Li e reli, e, confesso, não li como um leigo que imagina coisas, mas como um investigador interessado em entender o que estava se passando. Um veterinário que se pretende “oncologista” tem a obrigação de ler, de se informar, de entender (falo de minha experiência) que a medicina que se pratica fora do país é infinitamente muito mais avançada do que essas clínicas caça-níqueis espalhadas em cada esquina de nossas cidades, como se fossem “butecos” que sabe-Deus como permanecem abertos! Há muito para saber, aprender, se inspirar.
Poucos veterinários que conheci se dedicam a fazer uma veterinária que eu acho que seria a correta. Não falo de “atender bem o cliente” (o “dono” do animal), mas de fazer realmente uma medicina veterinária baseada em evidências, em ciência. Mal tocam nos cachorros. Mal vêem. Têm pouco interesse. Pensam nas contas a pagar no fim do mês. Pensam em qual remédio recomendar sem ao menos pensar se realmente são necessários. E, com sorte, vão progredindo. Mas, quando a realidade exige complexidade maior, eles não sabem como agir, embora aparentem para os “proprietários” que sabem.
Só Deus sabe o que se passa nessas clínicas veterinárias.
Minha cachorra morreria, um momento ou outro. Mas o que me deixa revoltado, impotente, é um “suposto-saber” desmascarado pelos fatos. O que me magoa profundamente são as conversas rápidas entre veterinário-proprietário, na qual “hipóteses” são lançadas como se lançam bolas no ar. Conversa mole, completamente insensível ao desespero, à angústia do proprietário. Ou então uma conversa mole, do tipo medicina-fetiche, linguagem empolada, um certo ar afetado, uma veterinária-merchandising.
Sabe por que a medicina veterinária pode ser muito mais cruel que a medicina humana? Porque animais são tratados como mercadorias. Não há quase freios para isso. Se você não gostou do seu veterinário, você troca. Mas a essência continua: lida-se com vidas de modo quase inescrupuloso, mas “dentro das regras” e sob aparência de normalidade. Como um animal vive 10 a 15 anos, o raciocínio passa a ser perverso, e os prognósticos tratados com naturalidade cínica.
Escrevi um desabafo. É isso, um desabafo. Para entenderem um pouco mais de medicina veterinária oncológica, olhe para fora do seu quintal. Comece por aqui: https://www.wearethecure.
Para saber como veterinários poderiam ser diferentes, use sua própria consciência.
Post-scriptum
1) Este é um post-desabafo; portanto, repleto de generalizações. Não estou sendo “científico”, como defendo, mas, diante das circunstâncias, acho que me sinto justificado;
2) Não sou cínico: critico, mas admito que preciso e vou sempre precisar de veterinários, pois sempre terei animais; então, estarei sempre na “eterna busca” de uma pessoa que combine ética e eficiência científica, que defenda a manutenção vida, por mais que ela seja de meses ou 1 ou 2 anos.
dezembro 28, 2013
Assisti ao filme A grande beleza, de Paolo Sorrentino. Há muitas críticas sobre o filme disponíveis na internet, boa parte das quais enfatizando a semelhança do filme com A Doce Vida, de Federico Fellini. Em ambos os casos, o cenário é Roma. Em ambos os casos, supostamente, a incapacidade de o personagem principal (no caso de A grande beleza, Jep Gambardella [Toni Servillo]) adaptar-se ao mundo ao redor, à mundanidade. Na Roma de 2013, a mundanidade resum-se ao consumo e às excentricidades da classe abastada.
Sem me desviar muito do eixo das críticas, inclusive da que, para mim, fez mais sentido (a de Calligaris na Folha de quinta, 26), queria registrar algumas impressões.
1) O vazio sentido por Jep em meio, paradoxalmente, à abundância, ao exagero das cenas e imagens – um contraste fantástico entre um barroco (romano), repleto de obras de arte, e o vazio. Nossa vida resume-se ao espaço delimitado por um parênteses, uma suspensão, entre a dor e momentos fugazes de prazer inesquecíveis (ou, como diria a “santa” Maria do filme, “as raízes”);
2) A estética como um modo de estar no mundo, de tornar a vida suportável. Não se trata de futilidade, como muitos críticos observaram: a futilidade de uma Roma submersa no consumismo, no desfrute, no gozo sem qualquer “seriedade” (como se algum gozo tivesse seriedade, não é?!). Trata-se de fluência: a fluência da vida, dentro do parênteses que a delimita, no fluxo da ilusão;
3) A ilusão tem um destaque fundamental no filme, a meu ver. E é sempre importante lembrar que ilusão não é sinônimo de mentira, de engodo, o avesso da realidade: no filme de Sorrentino, a ilusão é o próprio líquido amniótico da existência. Uma espécie de estética da ilusão, o sincronismo das imagens perfeitas;
4) O vazio do filme não tem a ver apenas com um passado feliz que não pôde se realizar no presente (Jep tem um amor de juventude, e, logo no início do filme, é comunicado de que ela havia acabado de morrer); tem a ver com o que fazer enquanto “esperamos” a morte. Sim, não adianta fugir; não há para onde correr – a morte é como tudo termina, é “o outro lado” comentado por Jep ao final. Mas, antes da morte, há “o lado de cá”, e, neste, o que fazer? Trabalhar? Ser uma pessoa séria, respeitada, proeminente? Criar e cuidar dos filhos? Do lado de cá, na visão de Jep, existe apenas uma coisa: momentos felizes soterrados sobre um monte de blá, blá, blá; e momentos de medo e dor, também eles sedimentados sobre um monte de blá, blá, blá (sic). E a ética de Jep é, justamente, a ética da estética, a ética da ilusão.
5) Talvez os críticos do “consumismo” e da mundanidade não consigam enxergar isso: de que não é possível haver uma posição isenta, uma perspectiva a-temporal que nos diga, com certeza doutrinal, de que certas ações, certos rituais, são “fúteis”. Ora, qual seria o inverso da futilidade? A penitência? A vida regrada, ordenada, “certinha”? A vida pequeno-burguêsa, ou, ao inverso, a vida modesta? O que quero dizer, e que acho que é uma leitura possível do filme, é que, no conteúdo encerrado pelo parênteses da vida, só nos resta a ilusão, e, nesta, a estética.
You cannot copy content of this page