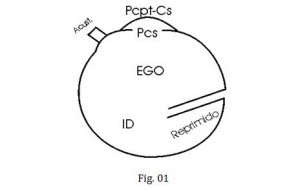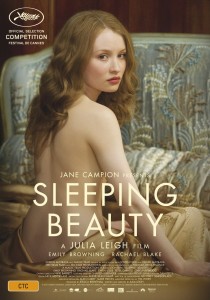Zoom
dezembro 7, 2011
Seguindo na lista de filmes premiados no festival de Cannes deste ano, o segundo que assisti foi Árvore da Vida, escrito e dirigido por Terrence Malick. O longa é apresentado, pela crítica, como possuindo um tom existencialista. De fato, não espere encontrar nada convencional, com temáticas facilmente associadas ao banal (no sentido de comum). Nem linearidade. Cenas sem tempo cronológico exato, entrecortadas com níveis absolutamente distintos – por exemplo, nos primeiros 30 minutos, somos levados do trauma do casal O’Brien e com a perda de um de seus filhos à criação do próprio universo, Big Bang, formação do DNA (deduzo eu), aparecimento e extinção dos dinossauros.
É justamente essa oscilação de níveis, dimensões, temporalidades, que nos leva a pensar na efemeridade da vida, na luta de todas as espécies vivas deste planeta para se manterem. A espécie é apresentada ao nível de seus indivíduos (a vida é, sempre, individual). Há uma cena (para mim) forte em que um pequeno “dinossauro”, ao ver o outro deitado na água (ferido por um predador), pisa na cabeça deste e depois segue sozinho. Não há como não se lembrar de Darwin neste momento. Ou então a cena em que vemos o que seriam (suponho) explosões no núcleo do sol, e a majestade do universo, da formação de supernovas, a presença de galáxias… E ainda o encontro de lavra de vulcões com o mar…
Ao mesmo tempo em que tais cenas do universo e de nosso planeta são mostradas, seguimos com o micro-dilema da família O’Brien. Vemos, depois, o trauma do outro filho do casal persegui-lo durante toda a vida. Durante a história toda, segue firme a sensação de incompreensão, a pergunta lançada a Deus: por quê? O livro de Jó é evocado, quando Deus pergunta: “Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? … Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam?” Como se sabe, Jó sofreu todas as provações possíveis de Deus para manter sua fé.
Gostei desse, digamos assim, “choque de perspectivas” que ele nos faz mergulhar. O efeito, no final, é uma estranha sensação de maravilhamento com a vida.