Aprendizagem de ganso
dezembro 18, 2025
De modo puramente aleatório, chegou até mim hoje um texto sobre formação presbiteral. Nada poderia estar mais distante da minha vida atual. Ainda assim, houve um tempo em que esse tema me seria profundamente familiar. Participei, por alguns anos, de um seminário menor – etapa formativa inicial de quem começa a trilhar o caminho rumo ao sacerdócio. À época, textos como esse fariam parte natural da minha rotina. Seja como for, o artigo toca em um ponto absolutamente fascinante, que, no contexto da formação teológica, assume contornos ainda mais dramáticos: até que ponto a formação, de fato, transforma quem é formado.
A tese central do texto é a de que pode haver um tipo de formação presbiteral em que os conteúdos são assimilados, os conceitos bem articulados e os estudos conduzidos com diligência, sem que nada disso, contudo, produza uma transformação real do sujeito. Trata-se de uma formação que opera no plano cognitivo, mas não alcança o coração nem a alma. O autor recorre à imagem de uma “teologia de ganso”: um saber que escorre pela superfície, sem penetrar. Na melhor das hipóteses, o resultado é um bom gestor, um executor eficiente de rituais; não, porém, um pastor capaz de se deixar afetar pelo sofrimento alheio, nem de permitir que o encontro com o outro o transforme.
Ao transpor essa reflexão para minha prática atual, vejo com clareza um dilema análogo na formação em psicologia, campo em que atuo. Evidentemente, não se trata do mesmo grau de mobilização existencial envolvido na formação sacerdotal; afinal, não estamos formando padres, mas futuros psicólogos. Ainda assim, há semelhanças importantes. A formação em psicologia não lida apenas com objetos externos ao sujeito, mas convoca continuamente seus afetos, sua história, sua própria subjetividade. No entanto, no campo específico da psicologia do trabalho (meu campo), essa dimensão transformadora tende a aparecer de modo mais opaco, já que o estudante é frequentemente pensado – ao menos em tese — apenas como um futuro trabalhador.
Aliás, acho curioso notar que um estudante mediano de psicologia costuma se envolver muito mais intensamente com temas como o “ser”, o “nada” ou o “ser-no-mundo” do que com discussões sobre sentido do trabalho. Isso ocorre, primeiro, porque a maioria dos estudantes — especialmente em universidades públicas – não é, ao mesmo tempo, trabalhadora e estudante. Falta-lhes, portanto, familiaridade concreta com as problemáticas do trabalho e, menos ainda, com a experiência das organizações, frequentemente percebidas apenas como espaços de exploração. Segundo, porque o psicólogo em formação parece ter dificuldade em admitir, salvo de modo difuso e por vezes ressentido, que também ele será um trabalhador inserido em uma economia de serviços.
O psicólogo, em regra, não ocupa um “emprego” clássico; tende a atuar como profissional liberal ou autônomo, à semelhança de médicos, dentistas ou fisioterapeutas. Isso significa ingressar em um mercado marcado pela oferta de serviços, pela oscilação da demanda e, não raramente, por condições de precarização. Paradoxalmente, o trabalho – que estrutura concretamente a vida adulta – aparece para esses estudantes como algo mais abstrato do que categorias filosóficas como o ser.
Diante disso, a questão que se impõe aos educadores que atuam na psicologia do trabalho e das organizações não diz respeito apenas a como ensinar melhor, mas a como tornar o trabalho psicologicamente pensável e experienciável. Trata-se de ir além de uma relação instrumental com conteúdos, conceitos e habilidades, consumidos apenas para que a disciplina seja concluída e se possa “seguir adiante” para matérias consideradas mais interessantes. O desafio é implicar estudantes que, embora não sejam trabalhadores stricto sensu, vivem cercados por trabalhadores e atravessados, direta ou indiretamente, pelas dinâmicas do mundo do trabalho.
Uma estratégia que tenho utilizado é partir da vida clínica. Procuro abordar o trabalho a partir de sua função psicológica, explorando seu potencial ambivalente: ao mesmo tempo fonte relevante de adoecimento mental e de saúde psíquica. Ao fazê-lo, parto da premissa de que o trabalho possui uma centralidade psicológica que excede sua função de mera subsistência. Um obstáculo imediato a essa abordagem é a própria concepção que muitos estudantes – hoje rotulados como “Geração Z” – têm do trabalho. Diversas pesquisas sugerem que esses jovens tendem a relativizar sua centralidade, priorizando a vida pessoal, o tempo livre e experiências subjetivamente significativas, em detrimento do sucesso profissional, do carreirismo e do consumo.
Somado ao fato de ainda não serem trabalhadores, esse deslocamento torna mais difícil sustentar a tese das imbricações profundas entre trabalho e vida psíquica. Ainda assim, vejo aí um caminho promissor. Outra possibilidade pedagógica seria inverter a lógica do ensino: abandonar a primazia dos conteúdos e processos para colocar no centro da formação a própria experiência dos alunos. Isso implica trazer o estranhamento em relação ao trabalho e às organizações para o primeiro plano da discussão, não como pano de fundo, mas como ponto de partida. Em outras palavras, fazer do desconforto, da distância e da resistência ao tema do trabalho o próprio motor da reflexão formativa.

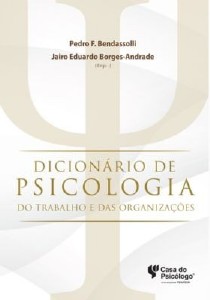
 Será que ser pesquisador de psicologia equivale a ser professor de psicologia? E quanto a ser um profissional de psicologia? Acredito que não sejam as mesmas coisas. Correspondem, as três, a papéis distintos, com impactos diferenciados em termos de aprendizagem.
Será que ser pesquisador de psicologia equivale a ser professor de psicologia? E quanto a ser um profissional de psicologia? Acredito que não sejam as mesmas coisas. Correspondem, as três, a papéis distintos, com impactos diferenciados em termos de aprendizagem.