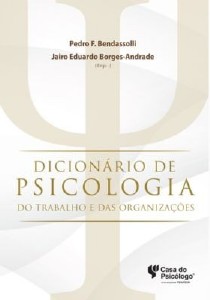Mudança
julho 7, 2015
1. Alguma vez você já ouviu alguém dizer que gostaria de mudar porque estava muito ‘feliz’? Imagine um grande pesquisador/cientista, ou profissional: ele está super-bem estabelecido na carreira – tem reconhecimento, bom salário, progresso (cumulativo), etc. Quer dizer, atende a todos os indicadores do que nossa cultura entende por ‘sucesso’. Você já o imaginou falando consigo mesmo em termos tais como: ‘Preciso mudar minha vida; não aguento mais. Quero fazer algo diferente”? Claro que, na avaliação do ‘sucesso’, contribuem fatores tanto objetivos como subjetivos. Mas há, inegavelmente, uma ‘canalização’ cultural que faria ter pouco sentido uma auto-reflexão como a ilustrada.
2. Mudamos quando algo não vai bem em nossa vida. Mudamos quando não vemos mais (ou muito) sentido no que fazemos. Mas, com tal afirmação eu, obviamente, estou excluindo o que alguns autores denominam de ‘imperativo da mudança’ – uma espécie de ideologia de época, algo que ouvimos em todos os meios institucionais e que, ao termo de tanta insistência, acabam sendo naturalizados. Segundo tal ideologia (ou discurso corrente), a mudança ‘é a regra’, a norma, o aspecto inquestionável de nossa época. Empresas mudam o tempo – são obrigadas a fazê-lo a fim de se manterem ‘vivas’. Pessoas mudam o tempo todo. É muito fácil ouvir coisas assim, ao ponto de eu não precisar ficar me detendo nisso aqui.
3. Muitas vezes, é claro, as pessoas mudam para que nada, simplesmente nada, mude. Exemplo: mudamos de cidade, de emprego, para, no fundo, ganhar um fôlego em relação a nossas questões existenciais centrais, aquelas que nos chamam para nosso próprio interior. Tais questões costumam ter uma gravidade maior do que as outras. Elas chamam para si grande parte de nossa atenção, e cuja não-superação nos leva ao conflito intrapsíquico (ou externo). Quando, por conta disso mesmo, nos esgotamos mentalmente, então podemos optar por mudar radicalmente aspectos periféricos de nossa existência. Com isso, ganhamos tempo. Ilustrando: você tem uma atividade A realizada numa localidade X; você pode continuar a realizar a atividade A, só que numa localidade Y. O tempo de adaptação à nova localidade pode lhe consumir alguma energia, deslocando-a do seu núcleo problemático anterior (quando exercia A em X). Mas, após o efeito adpatativo (e a menos que algo saia radicalmente do controle), você voltará à sua questão (neurótica) central. Daí a máxima ‘Mudar para que nada mude’, alterar o quadro, o cenário, para lhe desviar do ponto principal.
4. Mas a mudança pode ter algum apelo outro. Claro que há muita gente que simplesmente ‘odeia a mudança’. Exemplo: você tem a carreira A. Em que medida, em qual momento, você acha que o espectro, a amplitude, de tal ‘carreira A’ o levaria a algum tipo de exaustão? Digamos, chegar ao ponto de você dizer que não aguenta mais fazer A? Veja: não estamos num mundo fechado. Mesmo ‘dentro’ da carreira A você pode, digamos, atravessar fronteiras, expandir-se. O fato de ter havido, historicamente, um processo de segmentação e especialização do saber não implica em que sua vida deva se restringir a essa ‘gramática’ (até certo ponto, ok?!). A vida é mais do que uma profissão ou mesmo atividade (claro que, quando alguém está ‘satisfeito’, ele não enxerga nada mais: os limites / os horizontes de sua atividade confundem-se com o real ele próprio, isto é, com o campo do possível). Mas, independente desse fato (não vivermos num ‘mundo fechado’), você pode ter, fenomenologicamente, a sensação de que chegou ao LIMITE de A. Você não se vê mais se desenvolvendo nos domínios (ainda que expandidos) de A. Aqui você chega ao ponto de querer uma ‘mudança’. Esse seria o ‘apelo outro’ da mudança: a transferência em bloco para um campo distinto de experiências/vivências não contidas em A, com o intuito de alterar uma delimitação restritiva de sua ‘felicidade’ (independente do que esta última signifique na prática).
a. A mudança que você quer, neste ponto, pode, claro (sempre!), ser um signo hiper-generalizado que o impede de mudar dentro de A. Um signo generalizado, em geral de forte base afetiva, é uma representação vaga ou obtusa que representa, tentativamente, um amplo espectro de seu mundo afetivo-sensorial e empírico. Ele é, numa palavra, um ‘atalho’ cognitivo-afetivo. Ou seja, popularmente falando, uma ‘desculpa’.
b. Mas pode ser uma forma radical de transposição, uma maneira de, radicalmente, alterar o campo experiencial – alterar personagens, seu próprio lugar como ator, a relação entre papéis, e, claro, a base material em que a vida se desenrola. Como saber?
5. Portanto, neste ponto, chegamos a um tipo de embróglio. Mudar porque está ‘dando errado’? [Olha – ‘dar errado’ seria um mundo à parte para a discussão!]. E até que ponto a mudança de tipo vertical é necessária (por contraposição à mudança de tipo mais horizontal, isto é, incremental)?
_ _ _ _
A. No rádio, esses dias eu ouvi (em um propaganda oficial, do governo) que a edução lhe dá ‘liberdade, autonomia’ de ser quem você quiser. Não se explicar, mas isso me encheu de ânimo – você poder mudar quando bem quiser, pois tem recursos internos para isso, isto é, será capaz de se adaptar a novos contextos. A educação conseguiria isso? Quer dizer, uma das consequências da educação seria tornar as pessoas altamente MALEÁVEIS para atingir seus desejos [outro ponto que abriria muito o leque de possibilidades de discussão: QUE desejo seria esse?]?
B. Em outro comercial (desta vez, na TV), ouvi que podemos, sempre, RECOMEÇAR DO ZERO, voltar ao princípio (qual seria – o de nossas escolhas principais, as quais nos trouxeram ao que somos hoje?) e fazermos tudo diferente. E que, em tal ‘gesto’, haveria alguma forma de dignidade, de ‘honra’, produndas. Bom, estariam tais propagandas (vamos esquecer por ora o fato de terem, sub-repticiamente, um objetivo oculto) redondamente enganadas? Podemos abrir mão de ‘tudo’ para RECOMEÇAR?
>> O que digo, neste ponto, é o seguinte: desconstruir, desestabilizar, é muito prazeiroso (mesmo que no sentido lacaniano de ‘gozo’ – sei lá, uma espécie de sintoma). A questão está em conseguir articular isso com uma verdade inquestionável: a irreversibilidade do tempo.